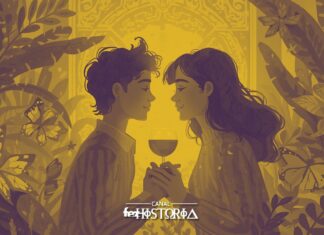A crise de 1929 e a longa depressão que se prolongou até os anos 1930 promoveram a reestruturação de uma sociedade capitalista dependente e dedicada à produção agrícola para a exportação, que em linhas gerais pode ser definida da seguinte forma: 1) intensificação da urbani zação e da industrialização; 2) o aumento considerável da migração para as grandes cidades como sintoma da decadência da economia agrária. Outras inovações foram as medidas implementadas no plano social (legislação trabalhista), a reorganização e a modernização do aparelho do Estado, a incorporação de novos atores à cena política (camadas urbanas) e, com a crise do sistema oligárquico, a expansão das atividades industriais no país. A Revolução de 1930, vista como episódio político específico, não passou, tanto na gênese quanto no desenvolvimento, de um caso típico de negociação entre elites. Agora, como processo, desencadeou, na sua dimensão econômica, uma inegável expansão das atividades industriais e da cultura urbana. É justamente essa expansão, tanto das atividades industriais quanto da cultura urbana, que podemos denominar ruptura.
A partir de 1930, ocorreu apenas e tão somente uma mudança de elite no poder, a diferença em relação ao Estado anterior: “A atuação econômica, – voltada gradativamente para os objetivos de promover a industrialização. A atuação social, tendente a dar algum tipo de proteção aos trabalhadores urbanos.” Tomada como processo, a Revolução de 1930 representou a possibilidade de mudanças em uma estrutura política e econômica arcaica, cuja origem remonta ao início do sistema colonial. De lá para cá, as parcas transformações ocorridas não haviam ultrapassado os limites dos seus moldes tradicionais, como, por exemplo, na passagem da monocultura da cana-de-açúcar para o café, a manutenção do trabalho escravo. Em 1930, foi colocado em marcha um movimento conduzido pelas classes médias, pela burguesia urbana, comerciante e industrial, associadas com um setor descontente da própria oligarquia cafeeira — a mineira — que estava sendo superada com a revolução. Unindo um viés progressista e outro conservador, a revolução assinalou, de um lado, a abertura de um longo processo de transformação — a conexão, ainda que tardia, com a Revolução Industrial —, mudança que deveria abalar inexoravelmente as estruturas do Estado brasileiro, sua economia e sociedade.
Porém, de outro lado, durante toda a década de 1930, foram apenas lançadas as sementes das mudanças. A modernização de um país não se faz da noite para o dia. Qualquer mudança de grande porte na economia e na sociedade de um país leva décadas para mostrar seus resultados. Em matéria de modernização, não existem fórmulas milagrosas, mas um trabalho contínuo e orientado para tal fim. Somente a partir da segunda metade dos anos 1940 é que essas sementes frutificariam e se pode considerar seriamente a presença de atividades que consolidariam o surgimento de uma sociedade e de uma cultura urbana e industrial. Somente a partir de então, com o final da Segunda Guerra Mundial, a sociedade brasileira se moderniza de fato em diversos setores e se inicia um processo que poderíamos chamar de uma sociedade de massa.
Para o surgimento dessa sociedade, contribuiu — além do desenvolvimento econômico — o surgimento de um poderoso sistema de informação e entretenimento, que não só formava opiniões e determinava o consumo, como criava uma rede (imprensa, rádios e jornais) pelo qual se divulgavam, nas grandes cidades, a cultura e o estilo de vida modernos.
Como exemplo dessa difusão, podemos tomar as emissoras de rádio, que de 106 em 1944 passam para 300 em 1950; o cinema, em 1941, com a criação da Atlântida e, em 1949, da Vera Cruz, que incrementaram a produção cinematográfica nacional; as redes de televisão, a partir dos anos 1950; as revistas, como, por exemplo, O Cruzeiro, que, em 1948, atingia uma tiragem de 300 mil exemplares; os livros e os jornais, cujas tiragens cresceram vertiginosamente.